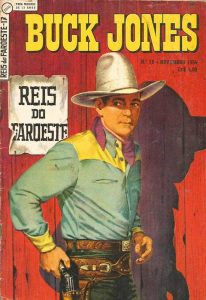Autoria do Prof. Rodolpho Caniato

O fato de morarmos num hotel frequentado por gente que vinha de outras regiões do Brasil e de outros países da Europa, além dos EEUU, fazia de nossa casa uma caixa de ressonância de fatos e histórias que circulavam pelo mundo. Meu pai, como gerente e intérprete, era quem recebia os principais clientes do hotel. O nosso principal hóspede, Mister Joseph, uma vez por ano passava alguns dias nos EEUU, mas preferia morar no Rio de Janeiro, no “nosso” Atalaia. O casal dinamarquês Fösker também voltava sempre da Europa. Meu pai, além de ler os jornais, estava sempre em contato com pessoas que traziam novidades do mundo. Era inevitável que conversasse em casa sobre os assuntos palpitantes.
Sacco e Vanzetti haviam sido executados na cadeira elétrica em 1927, depois de um longo, complicado e polêmico julgamento que ficaria na história. Tratava-se de dois imigrantes italianos que eram, como muitos outros que vieram para o Brasil, anarquistas. Além de tomados como subversivos, foram acusados de um assalto com uma morte em que foi roubado todo o dinheiro do pagamento dos funcionários de uma fábrica de calçados em Massachussets. Depois de muitos anos de julgamento e apelações, ambos foram executados na cadeira elétrica. Como não havia tido flagrante do assassinato, sempre permaneceu a dúvida sobre sua culpabilidade de morte, ou, se o processo não havia sido “contaminado” por um sentimento contra imigrantes “subversivos”, que tomavam o lugar dos operários americanos, e por uma espécie de “caça às bruxas” contra anarquistas.
Outro rumoroso caso discutido em todo o mundo nos anos trinta foi o Lindbergh-Hauptman. Charles Lindbergh era um herói nacional nos EEUU. Havia feito sozinho a primeira travessia solitária do Atlântico, dos EEUU para Paris, num avião monomotor, o “Spirit of St. Louis”. Era o maior herói americano da época, uma figura de prestígio mundial. Em 1932, um filho seu de menos de dois anos foi raptado e morto. Não houve testemunhas oculares nem provas cabais. Havia, no entanto, fortes indícios ou provas indiretas que recaíram sobre um carpinteiro alemão imigrante: Bruno Richard Hauptman. Durante quatro anos o processo contra Hauptman foi discutido não só na justiça americana como no mundo todo. Por fim, o veredicto foi de pena capital na cadeira elétrica. Em abril de 1936 Hauptman foi executado, protestando inocência até o fim. A repercussão se estendeu a todo o mundo. Também no Rio ela se fez sentir pela difusão do medo e restrições das mães em deixar as crianças livres para brincar pelas ruas.
Em meados de 1935 faleceu Alfred Dreyfus, um ex-oficial de artilharia do exército francês. Talvez nenhum outro caso na história moderna do mundo tenha agitado tanto a opinião pública quanto esse. Foi esse o tema que celebrizou Émile Zola com seu “J´accuse” (Eu acuso) e a provável causa de sua morte trágica e misteriosa. Embora o caso tenha tido seu início nos últimos anos do século XIX, as questões que ele levantou com as marchas e contramarchas de um processo complicado, provocaram movimentos apaixonados e consequências graves em várias partes do mundo. Um manuscrito encontrado numa cesta de papéis, e levado às autoridades do exército francês, indicava a existência de um oficial de alta patente e traidor. As suspeitas caíram sobre Dreyfus, o único alto oficial de origem judia. Instalou-se uma corte marcial e Dreyfus foi condenado à prisão perpétua na Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, bem perto do Brasil.
Dreyfus foi submetido à cerimônia de degradação, sendo-lhe arrancadas as insígnias de oficial e quebrada sua espada. O fato de ele ser judeu e a inconsistência da acusação levantaram as suspeitas de uma perseguição contra os judeus na França que, junto com boa parte da Europa, ainda vivia a tensão entre monarquistas e republicanos. A França estava dividida entre opositores e favoráveis a Dreyfus. Muitas empresas de judeus foram depredadas. Foi nesse clima de grande polarização política que Émile Zola publicou seu artigo “J´accuse”, pondo em evidência que se tratava de uma farsa montada e destinada a incriminar Dreyfus, pelo fato de ser judeu.
Zola, condenado à prisão e pagamento de multa, teve que se refugiar na Inglaterra. Outra vez a polarização levantou protestos e graves episódios em várias partes do mundo. Por fim descobriu-se que um oficial francês havia escrito o papel incriminador, visando eliminar da alta oficialidade francesa um judeu. Quando faleceu, em 1935, Dreyfus havia sido reabilitado, sem que nunca tivesse reivindicado reparos pelos grandes danos que havia sofrido. Seu caso havia contribuído para que se compreenda até onde podem ir a xenofobia e o racismo. Foi uma das coisas de que muito ouvi em minha infância. Meu pai era especialmente interessado em questões envolvendo os grandes processos jurídicos.
Nos anos trinta, outro assunto de que muito ouvi falar foi das greves de fome do grande líder indiano Ghandi. Falava-se de um homem franzino, coberto apenas com uns panos brancos e que estava pondo em cheque a autoridade Real Britânica sobre a Índia. Esse líder tão frágil e desarmado estava mobilizando seu país para a independência e sem o uso de armas, sem nenhuma violência, mesmo verbal. Sua pregação contava, segundo ele mesmo dizia, com a força da Verdade. Ele se tornara internacionalmente conhecido pela sua militância na defesa de seus compatriotas indianos, na África do Sul, também vítimas do “apartheid”. Esse meu ouvir falar de Ghandi, desde minha infância, deixou um germe de curiosidade e fez que, muitos anos mais tarde, eu voltasse a procurar saber mais sobre a vida de um dos grandes homens do século XX.