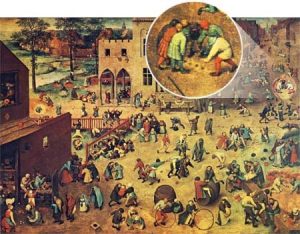Autoria do Prof. Rodolpho Caniato

Desde muito cedo aprendi a apreciar as belezas do Rio de Janeiro. Acredito que muito poucas cidades no mundo reúnam tantas e tão originais belezas naturais. Desde recém-nascido acompanhava meus pais aos frequentes “piqueniques” em Paquetá. O recanto que frequentávamos com amigos ou parentes era “A Moreninha”. Em minha memória, aquele recanto tinha algo de paradisíaco: um encanto quase sobrenatural. A água calma, tépida, era de um verde transparente. As pedras do alto de um dos lados da praia eram cobertas de mata, onde se fazia uma travessia pelo “túnel”. O topo daquela pedra servia de mirante para a Ilha de Brocoió, em frente à Moreninha.
A sombra das grandes jaqueiras, mangueiras e coqueiros do pátio do restaurante “A Moreninha”, junto ao mar, era o mais perfeito e suave cenário tropical, onde tomar água de coco tinha o gosto quase de um sacramento. De um lado do grande pátio havia o acesso direto ao canto da praia “Moreninha”. Do lado oposto ficava o grande portão, onde chegavam os coches, puxados por parelhas de cavalos bem arreados, e dirigidos por um cocheiro modesto, mas consciente da beleza e dignidade de seu romântico transporte. Além da bela viagem pelas calmas e ainda limpas águas da baia da Guanabara, a chegada e a saída da barca era um acontecimento cheio de emoções: alegria na chegada e nostalgia na partida.
Décadas mais tarde, quando voltei a essa ilha da fantasia de meus sonhos de criança, encontrei quase tudo degradado: águas poluídas, tudo empobrecido. Os antigos coches encontravam-se rotos e remendados com trapos ou pedaços de arame e rodas de velhos carros: feitos com sucata. Seus condutores e os próprios cavalos eram a figura da desnutrição causada pelo empobrecimento e degradação. A poluição havia levado quase todo o encanto daquele sonho que se chamava “Paquetá” e que havia sido o poético cenário do romance do escritor carioca Joaquim Manuel de Macedo, “A Moreninha”.
A Floresta da Tijuca era outro passeio habitual. A subida com o bonde “Alto da Boa Vista”, começava na “Muda” e terminava na pequena estação e quiosque próximo à entrada do parque da “Cascatinha”. Ali havia, além da cascata, o restaurante e bar, os obrigatórios fotógrafos “lambe-lambe” e os objetos de artesanato adornados com asas de borboletas. Aí começava nossa caminhada habitual pela floresta, cuja primeira parada era a Capela Mairinque. Seguíamos pelos caminhos e veredas até o “Açude da Solidão”, onde fazíamos a parada para o “almoço”. Minha mãe abria o nosso farnel: sanduíches de pão “Petrópolis” com “ovos mexidos” e frutas. Várias vezes fomos até o “Pico do Papagaio”. Em todas as encruzilhadas havia “despachos” ou “trabalhos” de macumba. Nossa frequência nos fizera conhecidos dos guardas da entrada do parque. Com um deles, muitas vezes meu pai trocava cumprimentos e breves conversas. Um desses guardas contou-nos de seu enxoval de cozinha, feito de recolher a grande quantidade de pratos, tigelas e outras matérias dos “despachos” e “trabalhos” das encruzilhadas.
A floresta tropical da Tijuca, tão próxima da cidade, é até hoje uma atração especial e única no mundo. Sua existência deve-se à iniciativa e reconhecimento do problema do desmatamento seguido da erosão, pelo Imperador Pedro II. O reflorestamento foi iniciado pelo major Archer, em 1861, à frente de um grupo de escravos e completado pelo Barão D´Escregnolle, que foi o responsável pelo embelezamento dos recantos e atrativos turísticos dessa extraordinária floresta urbana.
O Corcovado e o Pão de Açúcar, dois ícones do Rio de Janeiro, sempre estiveram diante de meus olhos e na minha memória. Não só pela beleza e originalidade como pelo fato de serem pontos obrigatórios nos passeios repetidos, quando chegavam amigos ou parentes. O trem ou bondinho do Corcovado foi inaugurado por Pedro II, embora o monumento (Cristo) só tenha sido erigido em 1932. Eu ainda era criança, mas me lembro da expectativa e dos comentários que se seguiram a um fato de grande importância histórica naqueles anos. Guglielmo Marconi, o inventor do rádio e prêmio Nobel de Física, acionou desde a Itália, a bordo de um navio, um sinal de rádio que fez acender a iluminação do Cristo. É fácil imaginar tanto a expectativa quanto a repercussão que isso teve. Era de fato um acontecimento mundial e que alvoroçava o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro naqueles anos trinta.
O Pão de Açúcar, essa extravagante sentinela, bem na entrada da baía da Guanabara, sempre foi o lugar aonde se ia também para levar parentes e amigos que chegavam à Cidade Maravilhosa. (Sempre imaginei o que deve ter sido a entrada da primeira caravela naquele cenário deslumbrante e virgem. O deslumbramento que deve ter ocorrido a quem via pela primeira vez esse panorama único. Deve ter sido extraordinário o momento e surpreendente também a visão dos que estavam em terra, os índios, da entrada da primeira caravela e ver de dentro dela saírem seres tão diferentes e tão fantasiados.). Mas o mais sensacional era o passeio nos barquinhos do lago, muito rústicos, mal cuidados e que sempre “faziam água”. A gente acabava se molhando, mas isso só acrescentava emoção, cujo ponto culminante era a passagem de barco pelo túnel que ligava os dois lagos. Era preciso ir tirando água com uma lata, que já fazia parte do “equipamento de bordo” daqueles rústicos barquinhos.
As praias, mesmo a mais famosa do Brasil, a “princesinha do mar”, Copacabana, não tinham grande frequência. Não era ainda tão difundido quanto seria mais tarde, o hábito de “ir à praia”. Tanto a Avenida Atlântica quanto a própria praia, a areia, eram muito mais estreitas que as de anos depois. Vez por outra, ondas na preamar, em dias de “ressaca”, atingiam a Avenida Atlântica. Eu sempre frequentara a praia, desde muito criança, com minha mãe, que havia aprendido a nadar em sua infância na Suíça. Outras vezes ia com meu pai ou com um de meus tios, o “tio Nino”, que me levava em seus ombros até às ondas. A orla era muito mais apreciada pela sua “vista para o mar” ou pelo “footing” na calçada. Para quem passeava pela orla, à noite, já eram familiares os lampejos do velho farol da ilha Rasa, bem em frente de Copacabana, a orientar os navios que chegavam ou partiam do porto do Rio.
Faziam parte do cenário da Avenida Atlântica os grandes postes de iluminação e os luxuosos ônibus da Light, prateados, com assentos de veludo e um motorista em rigoroso uniforme cinza e quepe. Não havia cobradores. A cobrança era feita pelo motorista. Era preciso despejar as moedas dentro de um recipiente de vidro junto a ele. Só depois de conferir a quantia através do vidro é que esse acionava uma alavanca que fazia as moedas caírem para dentro do cofre. Os bondes eram muito mais baratos e mais usados.
Nota: Extraído do livro “Corrupira”, ainda inédito, do autor.
Imagem copiada de business-ethics.com
Views: 12